Corrija a Equalização do seu Hi-Fi
Métodos práticos do ajuste de componentes, dos quais, segundo o Autor, depende a boa reprodução sonora.
LIZIO TÁVORA DOS SANTOS
Os estúdios de som, muito em moda hoje em dia nas grandes cidades, anexos na maior parte das vezes às lojas especializadas na venda de eletro-domésticos, estão permitindo através de demonstrações ao público, um confronto entre os diversos conjuntos expostos, nacionais e importados; por ele podem-se avaliar as verdadeiras características de cada um dos elos que os compõem. Os sistemas de comutações especiais ali empregados combinam entre si, de maneira rápida, quase instantânea, a gosto do interessado, os toca-discos, sintonizadores, amplificadores e sonofletores de inúmeras procedências. Sob a orientação de um ouvinte criterioso, a oportunidade é de grande valia para se tirar definitivas conclusões a respeito, pois, em outras circunstâncias, o relativo espaço de tempo, que intercala as provas comparativas, prejudica o juízo que se faz, em razão da fraca retenção da nossa memória auditiva.
Um detalhe, que julgávamos não devesse mais existir, despertou nossa atenção em algumas experiências: os aparelhos importados superavam em desempenho a maioria dos nacionais, mormente no tocante à reprodução de frequências médias, onde a presença de um maior número de harmônicos, cujas frequências não são muito elevadas, se traduz de uma forma geral na clareza e nitidez da audição. Ora, no entender de muitos, o único componente que causava transtornos aos nossos montadores de Hi-Fi, até bem pouco tempo atrás, na equiparação da qualidade aos amplificadores importados, era o transformador de saída mal necessário dos circuitos a válvula.
Agora, porém, virtualmente abolido na era dos transistores, a quem atribuir a culpa pelos maus desempenhos? Os circuitos modernos, livres daquela presença volumosa e incômoda, ficaram restritos a umas poucas configurações, bastante semelhantes entre si, de mais fácil execução. Quanto ao material específico disponível na praça, uma vez que considerado nada inferior ao importado, reduzia ainda mais, no nosso entender, a possibilidade de haver uma lógica naquela supremacia. Isto posto, feitas as pesquisas que o assunto requeria, surgiram resultados que relatamos a seguir:
A Fig. 1 (a e b) ilustra formas usuais da rede de equalização da curva R.I.A.A. de gravação de discos fonográficos, no caso, para unidades magnéticas. Na realidade, trata-se de um elo realimentativo, abrangendo normalmente os dois primeiros estágios de preamplificação. Composta de um filtro passa-baixas (C1 e R1), e de outro passa-altas (C2 e R2), cumpre a função dinâmica de fazer a correção tonal da citada curva, com vistas à linearidade da resposta. A primeira rede RC atua na recomposição até os 1.000 hertz, enquanto que a segunda atua deste ponto em diante. Este exato ponto, que representa a transição entre as faixas de freqüência, corresponde ao nível zero da potência relativa. Como é fácil presumir, o trabalho da equalização encerra um certo apuro, na dependência do entrosamento entre as duas redes equalizadoras.
Embora pequenas variações no comportamento de uma não repercutam negativamente na outra, grandes desvios por parte de qualquer uma delas acabam por levar ambas ao desequilíbrio total. Exemplificando, se o valor dado para C2 é 2.200 pF, poder-se-á variá-lo uns 20% para mais ou para menos, sem que haja reflexo no outro trecho da curva. Mantido, portanto, o ponto de apoio nos 1.000 hertz, a seção da curva afetada com a alteração descreverá outro trajeto, mais para a direita ou para esquerda de onde estaria, se o valor inicia! fosse mantido.
Se, porém, for alterada em urna proporção maior, corre-se o risco de perder o tal ponto de apoio, sendo descrito então um novo percurso, o qual leva de roldão o resto da curva, por uma questão de conciliação mútua. Afinal, qualquer divergência entre os valores ótimos indicados no esquema, se bem que encobertos às vezes por uma tolerância extensa, e os usados na montagem, arbitrariamente, gera urna decepção que chega tão logo passem as emoções da alegria causada pelo funcionamento do aparelho.
Talvez resida nesse fato a explicação para muitos fracassos havidos antes, quando tentaram-se reproduzir amplificadores importados, de marcas famosas, que, apesar do emprego do transformador de saída original, não lograram obter as características destes. A atuação de cada rede equalizadora na anulação das respectivas curvaturas da curva R.I.A.A. são destacadas na Fig. 2, através das zonas hachuradas. Desde que não haja o cancelamento, ou este seja feito de modo imperfeito, sobra sempre um residual, que passa a acidentar o trecho da curva onde a anomalia tenha ocorrido.
Contudo, mal ou bem, surge daí a curva de resposta, produto da planificação da curva R.I.A.A., sendo submetida agora aos caprichos dos controles de tonalidade. A parte intermediária, a dos médios, como é chamada, mantém-se fora do alcance dos ditos controles, imune, portanto, à ação do retoque pessoal. Seu perfil, de trajetória definida, tem como incumbência promover a manifestação das melodias de todos os tipos de composição musical.
As faixas que dividem a curva de resposta não representam compartimentos isolados de um grupo de frequências íntimas. Uma vez desdobrados em harmônicos, quando na reprodução de notas musicais, estes não respeitarão as fronteiras convencionais, indo se propagar livremente em direção ao ponto mais alto da escala, invadindo a faixa adjacente. Tal fato se deve à duplicação sucessiva das frequências dos harmônicos, ao mesmo tempo que ocorre a redução gradativa das respectivas intensidades.
Pelo visto, mesmo uma nota instrumental, cuja fundamental for reproduzida inicialmente em uma faixa absolutamente plana, poderá vir a sofrer distorção harmônica, pelo fato da região invadida pelo desdobramento da estrutura da nota estar indevidamente equalizada pelo dispositivo incumbido de fazê-lo, ou, então, sob os efeitos dos controles de tonalidade. Em suma, o complexo harmônico será sujeito a deformações, no seu todo ou em parte, na funda-mental ou em seus desdobramentos, quando estes se manifestarem em locais acidentados da curva de resposta, não coincidentes, portanto, com o nível plano.
Embora possa haver tal coincidência, com a compensação feita a ouvido por intermédio dos graves e agudos, com relação aos médios, todavia, isto só será possível através do ajuste dos valores da rede de equalização. Uma maneira, um tanto empírica, a que se recorre para decidir pela introdução ou não de modificações desse teor no circuito do amplificador, consiste em se optar por uma das alternativas abaixo, relacionadas com base nas observações levadas a efeito com este propósito, aia, então, nas de outra pessoa, de ouvido mais sensível e educado musicalmente:
a) Percebe pouquíssima diferença de qualidade entre as diversas marcas de discos fono-gráficos nacionais? Em caso positivo, C1 e C2 merecem retoques.
b) Já estabeleceu um critério de escolha entre os nacionais, mas sente pequena superiori-dade no disco importado? Em caso positivo, retocar apenas C2.
c) Prefere o importado, pelo que de melhor pode oferecer, sem desprezar, contudo, algumas poucas marcas nacionais? Em caso positivo, nossos parabéns, não precisa alterar nada.
A fim de que tais experiências surtam os efeitos desejados, é importante o seguinte:
1°) Haver compatibilidade total entre a unidade fonocaptora e a correspondente entrada do preamplificador.
2°) Manutenção dos controles de tonalidade fixos na posição de meio curso, durante todo o tempo.
3°) Abster-se do uso de qualquer incremento artificial de som.
É preciso considerar, como fator altamente influenciável na reprodução musical, os desempenhos de certas unidades magnéticas, que se sobrepõem à própria correção da curva, fazendo prevalecer suas tendências. Por isso, o enquadramento do caso particular, na 1a. ou 2a. alternativa, pode causar certa surpresa, em decorrência de não haver, aparente-mente, qualquer objeção quanto ao conjunto sonoro. Neste caso há de se querer reparar os efeitos, corrigindo o que deverá estar bem dimensionado para outras condições.
Em se usando cápsula estereofônica adaptada para funcionar em mono, aí a influência é maior ainda, pois, se ligada em paralelo (contra-indicado), reforça as altas freqüências; se ligada em série, enfatiza as baixas frequências, para não falar nas consequências piores. Feitas as experiências sugeridas naquelas três alternativas, somar-se-ão a elas todas as implicações extras a que porventura esteja submetido o amplificador, inclusive aquelas não apreciadas aqui, tais como as relacionadas com os rendimentos do alto-falante e sonofletor, individualmente ou em conjunto.
Então, em última análise, têm-se:
a) Excesso de frequências baixas, que se caracteriza principalmente pela presença notória do ruído causado pelo motor do toca-discos. Neste caso, reduzir o valor de C1. Na total ausência deste sintoma, fazer o contrário.
b) Excesso de altas frequências, perceptíveis através da presença incômoda na audição dos estalidos próprios da gravação, mormente em discos gastos ou mal gravados. Neste caso, aumentar o valor de C2. Na ausência dos mesmos, fazer o contrário.
Tanto o ronco do motor, como o chiado normal de um disco seminovo, revelam, em seus ní-veis aceitáveis presentes na audição, a seleção final dos valores de C1 e C2, que devem ser incluídos no circuito, em substituição aos outros lá existentes. Se o toca-discos, porém, é de boa qualidade, deixando por isso de fornecer aquela referência acima aludida, existe outra solução para o caso. Coloque-se-o noutra dependência da residência, um tanto distante do local onde funciona o equipamento de som. Lá deverá chegar, de forma nítida e bem definida, todo o conteúdo musical que se está reproduzindo, e não apenas os acordes do acom-panhamento. Neste segundo caso, convirá reduzir o valor de C1.
Quem dispuser de recursos adequados, poderá fazer o levantamento gráfico da curva de resposta do conjunto, utilizando, para tanto, um desses discos de prova contendo faixas de frequências. Tal operação é de mais precisão que a descrita anteriormente.
De qualquer forma, estamos dando a devida importância aos possíveis desacordos de equalização, naturais ou forçados pelas circunstâncias, e as eventuais impropriedades dos acoplamentos havidos no conjunto, somadas a determinadas atuações de algumas cápsulas rebeldes à coexistência pacífica. Cumprida a primeira fase dos ajustes da equalização, iremos agora conferir os valores dos componentes escolhidos para C1 e C2, para verificar-mos se correspondem à expectativa. Como a substituição dos valores de C1 e C2 originais ficou condicionada aos valores padrão disponíveis no comércio, é quase certo que estes necessitem de um ajuste mais apurado.
A começar pelas baixas frequências, a prova consiste em ouvir um disco em que haja um contrabaixo em primeiro plano. Prestando bem atenção, há de se identificar, pelo menos, uma meia dúzia de acordes em tons diferentes, não apenas um, como provindos de uma corda só. Não havendo esta distinção, é sinal de que o valor de C1 não é o adequado. Vamos exemplificar, a fim de tornar mais fácil o entendimento. A troca de valores, desde o início, obedeceu a esta seqüência: de 4.700 pF, indicado originalmente no esquema, sem especificação da tolerância, foi colocado na montagem um com 20%.
Mais tarde, em decorrência do, ajuste aqui preconizado, aumentamos esse valor para 6.800 pF, do tipo comum. Isto porque, devido o que se observou, com o valor imediatamente inferior da escala comercial, 5.600 pF, ainda era bem perceptível o ronco do motor do toca-discos, ao passo que com o superior, 8.200 pF, provocava uma sensível perda de graves, tida como exagerada demais.
A questão agora é tentar estabelecer a tal diferenciação, fazendo experiências com valores bastante aproximados a 6.800 pF. Fazendo uso de alguns capacitores em paralelo, é possível variar os valores totais de capacitância dentro de uma reduzida margem. Assim é, que os 7.100 pF obtidos do somatório de 3.900 + 2.200 + 1.000, ou então, 6.500 pF, resultado das ligações de 3.300 + 2.200 + 1.000, ou ainda de uma infinidade de combinações possíveis, acabam por deixar evidenciados aqueles detalhes acima aludidos.
Assim como um instrumento musical — o contrabaixo — através dos seus acordes, serviu de referência para a dosagem definitiva do "quantum" de graves, o violino, outro instrumento, embora de maneira um tanto diferente, se prestará na apuração do valor de C2, cuja responsabilidade, conforme se sabe, está afeta às altas frequências.
Desta feita, sem lançar mão das notas produzidas, propriamente ditas, há certas nuanças inerentes a elas, que lhes outorgam um colorido sem igual, tornando-as assim, de timbre inconfundível. "Da percepção auditiva disso, segundo a descrição que se vai tentar fazer em seguida, resume-se a próxima etapa de apuração do valor de C2. Quem já teve oportunidade de presenciar ao vivo, a curta distância, exibições de instrumentos de cordas acionados por um arco, tais como o violoncelo e o violino, pôde sentir o quanto são ásperos aos nossos ouvidos determinados acordes por eles produzidos, muito especialmente alguns deste úl-timo.
Em certas execuções de variações tonais rápidas, o som chega a se tornar irritante ao ouvinte postado muito próximo ao solista. Pois bem: mesmo descontados os possíveis abrandamentos sofridos pelo som, desde a captação pelo o microfone até sua reprodução pelo alto-falante, numa audição de música gravada em que haja um solo de violino, excitado por um movimento "allegro vivace", ou algo parecido, o ouvinte há de sentir, ainda que por décimos de segundo, uma sutil irritação causada pelo roçar do arco na corda. Se não sente nada, pelo contrário, o deslize é suave, como se a corda estivesse untada de graxa para evitar o atrito, é porque C2 não está ainda adequadamente correto.
Recapitulando: o resultado das experiências anteriores apontou ser 1.000 pF, numa suposição, ideal para substituir os 1.500 pF, valor original de C2, em virtude do aparecimento na audição dos estalidos da gravação que antes não eram notados. A manobra de depuração do valor, é óbvio, deverá circunscrever-se ao primeiro, até ser possível a percepção daquele detalhe. Contudo, partindo-se desse aspecto que qualifica, em última instância, o amplifica-dor, é muito provável que o audiófifo, empolgado pelo fato, proceda à diminuição indiscriminada do valor de C2, já que a aspereza dos trinados passa a ser cada vez mais notada.
Porque se desconhecem as proporções de cada caso de per si, torna-se bastante difícil estabelecer limites de parada do trabalho de apuração de valor, em termos de números, evitando desta forma que todos os acordes do violino acabem se tornando irritantes. De uma maneira geral, a redução aproximada de 5% do valor, o qual propicia a presença dos estalidos próprios da maioria das gravações nacionais na reprodução, em nível bastante suportável, deverá prevalecer na totalidade dos casos.
Usando da mesma sistemática de antes, com base no valor do capacitor posto inicialmente, a título de exemplo, talvez 940 pF (470 + 470), venha destacar aquele pormenor. Na defesa desse ponto de vista, alega-se que as condições nas quais a reprodução musical está sendo feita são idênticas às do momento da gravação, isto é, com o ouvinte postado a poucos metros do solista, sujeito, portanto, à irritação proveniente da audição ao vivo, embora atenuada pelas circunstâncias, conforme foi ressalvado. Deverá causar estranheza a muitos o fato do Autor não considerar as influências das peças restantes do conjunto sonoro, ao longo dessas apreciações.
Salvo as implicações que incidem diretamente, de forma negativa, na boa execução dos ajustes, advindas da cápsula e do sonofletor, em nenhum instante foi-lhes atribuído um papel de contribuição para a boa causa. Isto porque cabe ao amplificador as honras da participação numa parcela mais substancial do que as demais, talvez assim numa proporção de 70%, enquanto os outros 30% se dividem entre a unidade, alto-falante e a caixa acústica. Pode ser que os montantes não sejam exatamente estes, mas não se deixará de reconhecer a infinita superioridade da influência do amplificador, em comparação com o resto.
Tanto é que, desajustado ou impropriamente montado, deixa de contribuir para o sucesso de todo conjunto, dando lugar somente às de aspecto negativo na mesma proporção. Aí neste caso, em meio a tanta ruindade, será fácil perceber o que de bom ainda resta funcionando a contento. Por isso, depois de convenientemente ajustado, não será espanto se o amplificador fizer as pazes com as peças antes rejeitadas das múltiplas combinações já tentadas até então.
NOTA DA REDAÇÃO — Alguns dos conceitos expendidos pelo Autor não coincidem com o ponto de vista de nosso Departamento Técnico. Todavia, a publicação deste artigo foi julgada útil no sentido de trazer a debates um assunto de inegável interesse para os Audiófilos.
ANTENNA
FEVEREIRO 1974 VOL. 71 — N.° 2


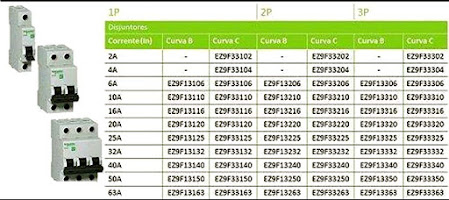


Comentários